Os erros de Samanta Mendanha sobre identidades de gênero e xenogêneros
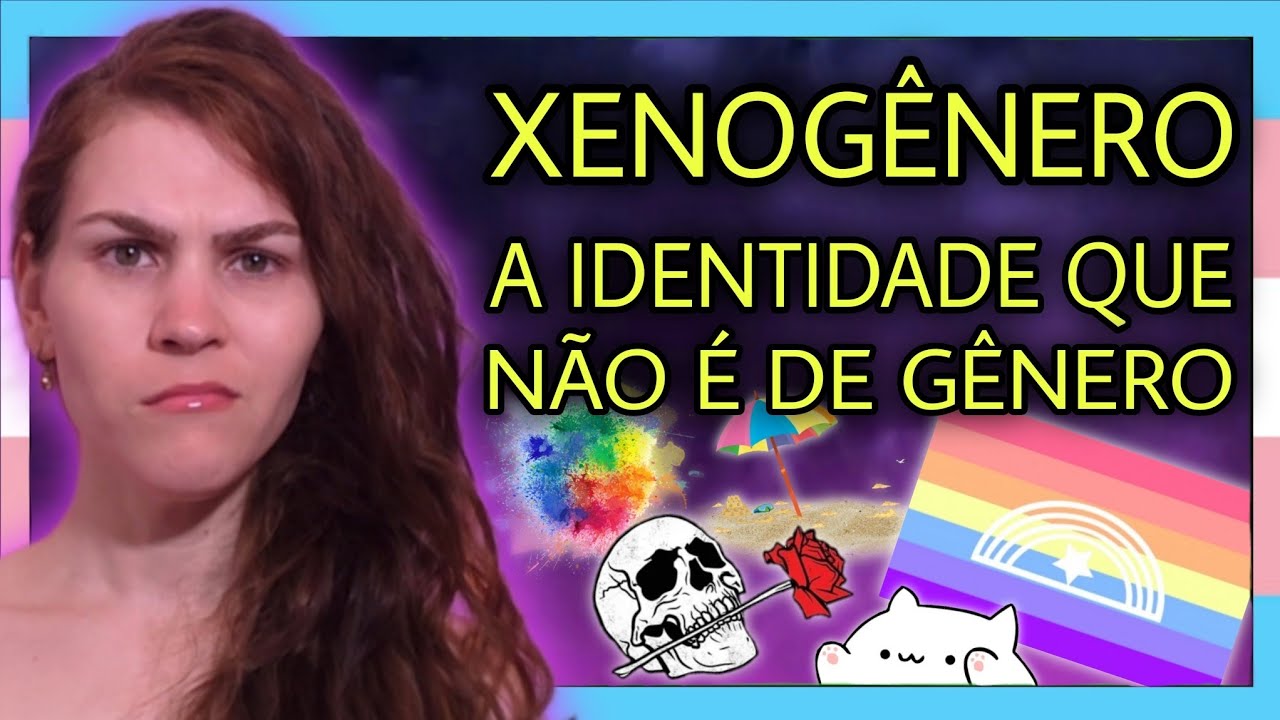
A autora do vídeo afirma que pessoas transgênero são trans exclusivamente por conta da disforia de gênero. Essa análise, porém, revela uma compreensão restrita e equivocada, pois ela ignora o fato de que pessoas cisgênero também podem experienciar disforia sem, por isso, deixarem de ser cis. Além disso, por ela, a identidade de gênero é reduzida a um mero desconforto com características sexuais — primárias, secundárias ou terciárias —, desconsiderando que o cerne da questão não está apenas no corpo em si, mas na inadequação às normas e expectativas sociais baseadas em construções de sexo e gênero. Apesar de adotar um discurso biologicista e transmedicalista, ela contraditoriamente dá ênfase à transição social, o que evidencia uma incoerência em sua própria argumentação.
Xenogêneros e a suposta contradição conceitual
A análise se torna ainda mais problemática quando aborda os xenogêneros. Samanta argumenta que, embora algumas pessoas os considerem identidades de gênero legítimas, ela acredita que não os são. Baseia-se na primeira descrição de 2014, afirmando ser impossível identificar-se com algo "fora do entendimento humano". Parte-se do pressuposto de que o gênero é exclusivamente humano, o que, segundo ela, configura uma contradição ao se associar uma identidade de gênero a elementos não antropocêntricos. Em seguida, problematiza-se a ideia de identidades desconectadas das categorias "masculino" e "feminino", alegando que todas as identidades — inclusive as não-binárias — mantêm alguma relação com esses polos, seja negando normas a eles vinculadas ou incorporando aspectos de ambos. [Observação: há aqui uma confusão conceitual, já que "masculino" e "feminino" são arquétipos relacionados a gêneros binários, mas seus estereótipos acabam indo além destes, enquanto "homem" e "mulher" são identidades binárias reconhecidas.]
O discurso sustenta que o gênero, mesmo quando contestado, continua a girar em torno de um eixo binário — "masculino" e "feminino" — atrelado às características sexuais e aos papéis sociais derivados delas. Critica-se a atribuição de identidade de gênero a elementos dissociados desse eixo, como cores ou objetos, com o argumento de que tais elementos não possuem o peso normativo do gênero. Contudo, essa crítica revela-se contraditória quando, mais adiante, defende-se a necessidade de desconstruir o gênero — um processo que, por definição, implica romper com as regras normativas que o discurso anterior insiste em preservar. Afinal, não é possível simultaneamente desconstruir normas e exigir sua adesão.
Distorção do gênero-esqueleto
Essa contradição se evidencia de forma explícita na forma como a autora trata o gênero-esqueleto. Um exemplo claro de má interpretação ocorre na análise desse xenogênero, apresentado de forma desonesta como mera descrição de uma pessoa "triste e romântica". A descrição original, inclusive linkada como fonte na descrição do vídeo, vai além: associa a identidade (não a pessoa) a uma estética melancólica, morta e romântica, inspirada no romantismo e na sensação de vazio provocada pela falta de reciprocidade e ao mesmo tempo marcante e memorável, como flores recém-desabrochadas. Trata-se de uma construção simbólica e poética de uma experiência de gênero, que é deliberadamente distorcida para servir ao argumento contrário. Ao omitir esses nuances, cria-se uma caricatura que não corresponde à fonte citada que ela traz como referência.
Curiosamente, a mesma lógica usada para invalidar o gênero-esqueleto — por supostamente basear-se em "sentimentos" — desmorona quando aplicada à própria vivência da autora como mulher trans e travesti. Seu relato pessoal também se fundamenta em experiências subjetivas, além do desconforto com características sexuais impostas. A disforia, afinal, é um sentimento — o mesmo critério usado para deslegitimar outras identidades. Assim, ao rejeitar vivências como o gênero-esqueleto por serem "emocionais", invalida-se as bases afetivas que sustentam sua própria identidade, expondo uma incoerência estrutural na argumentação.
A rigidez normativa como paradoxo
Seguindo na mesma linha contraditória, a autora insiste que o gênero-esqueleto não passaria de traço de personalidade, já que sentimentos como melancolia não estariam vinculados a regras sociais de gênero (vestimenta, linguagem, etc.). Só que essa concepção estreita colide com o discurso de desconstrução do gênero que a moça diz defender. Exige-se que identidades se moldem às normas vigentes — justamente o que se propõe desconstruir —, revelando uma visão paradoxalmente conservadora, ignorando que o próprio conceito de identidade de gênero vem sendo ampliado justamente para acolher experiências subjetivas, sensíveis e simbólicas — inclusive as dela própria, como mulher trans e travesti, que também se baseiam em sentimentos como desconforto, inadequação ou rejeição às imposições de gênero. Se o gênero é uma construção social passível de transformação, por que limitá-lo às estruturas existentes?
Neurodivergência e duplo padrão
Essa limitação se agrava ainda mais quando ela aborda a relação entre xenogêneros e neurodivergência. Ao reconhecer que pessoas autistas ou com TDAH podem ter dificuldades com normas de gênero, inclusive para verbalizar suas experiências, ela simultaneamente invalida a legitimidade de expressões alternativas e desqualifica o uso de referências simbólicas, afetivas ou sensoriais (como cores ou objetos). Insiste que apenas a relação com signos sociais estabelecidos define o gênero, alegando que o que foge disso se refere à personalidade, não ao gênero. Essa postura ignora que a neurodivergência frequentemente demanda linguagens não convencionais para expressar identidade — algo que, ironicamente, a autora exige para si quando descreve sua própria trajetória como cisdissidente, sendo autista também.
A autora permanece presa a uma concepção normativa de gênero, baseada exclusivamente na leitura e na reprodução dos códigos sociais instituídos — um posicionamento que conflita diretamente com a proposta de ampliar ou desconstruir esses mesmos códigos.
Materialismo e apagamento de subjetividades
Sob o rótulo de "materialismo", defende-se que o gênero deve ser objetivo e palpável, ancorado em normas sociais visíveis. Segundo ela, ainda que uma pessoa utilize uma metáfora para expressar sua identidade de gênero, essa metáfora precisa estar ancorada nas regras sociais de gênero daquela sociedade para ser considerada válida. Vivências subjetivas, como as do gênero-esqueleto, são descartadas como "abstrações excêntricas". Ela se posiciona firmemente com base em um entendimento que chama de materialista, afirmando que o gênero é uma construção social objetiva e material, moldada pela sociedade e visível nos comportamentos e nas relações sociais.
Para ela, o gênero não reside em vivências abstratas e subjetivas como "melancolia" ou "romantismo" — como é o caso do gênero-esqueleto — e não pode ser reduzido a símbolos que não se relacionem com os códigos sociais de gênero. A suposta preocupação com políticas públicas (como cotas) serve de justificativa para desconsiderar identidades que fogem à norma, perpetuando uma lógica cisnormativa que historicamente marginalizou pessoas trans.
Nesse sentido, ela argumenta que ampliar demais a definição de transgeneridade — a ponto de incluir experiências que escapam dessas normas — esvaziaria o conceito, dificultando sua aplicação prática em políticas públicas, como no caso de cotas para pessoas trans. Segundo ela, isso comprometeria, por exemplo, os critérios objetivos das comissões responsáveis por avaliar autodeclarações em contextos institucionais.
Mas, se fosse levar a sério esse argumento de que não se deve inflar o conceito de trans por conta de uma política de inclusão, então seria necessário defender que todas as mulheres trans fizessem terapia hormonal, já que o uso de hormônios é um critério obrigatório, por exemplo, para participar de esportes em categorias femininas. No entanto, essa não é uma exigência que ela mesma defende — revelando, mais uma vez, a seletividade com que aplica seus próprios argumentos.
Considerações finais
Ao longo do vídeo, Samanta Mendanha adota uma postura que oscila entre o biologicismo rígido e um discurso normativo que contradiz sua própria vivência enquanto mulher trans e travesti. Seus argumentos, embora disfarçados de racionalidade e preocupação com políticas públicas, acabam reforçando os mesmos mecanismos de exclusão que historicamente silenciaram as múltiplas formas de existência trans. O que se apresenta como crítica teórica é, na prática, uma tentativa de delimitar fronteiras identitárias com base em critérios seletivos e incoerentes, negligenciando experiências legítimas que escapam das convenções normativas. Se o gênero é, de fato, uma construção social em disputa, o mínimo que se espera é abertura para sua pluralidade — e não a reafirmação das mesmas estruturas que se diz querer desconstruir.